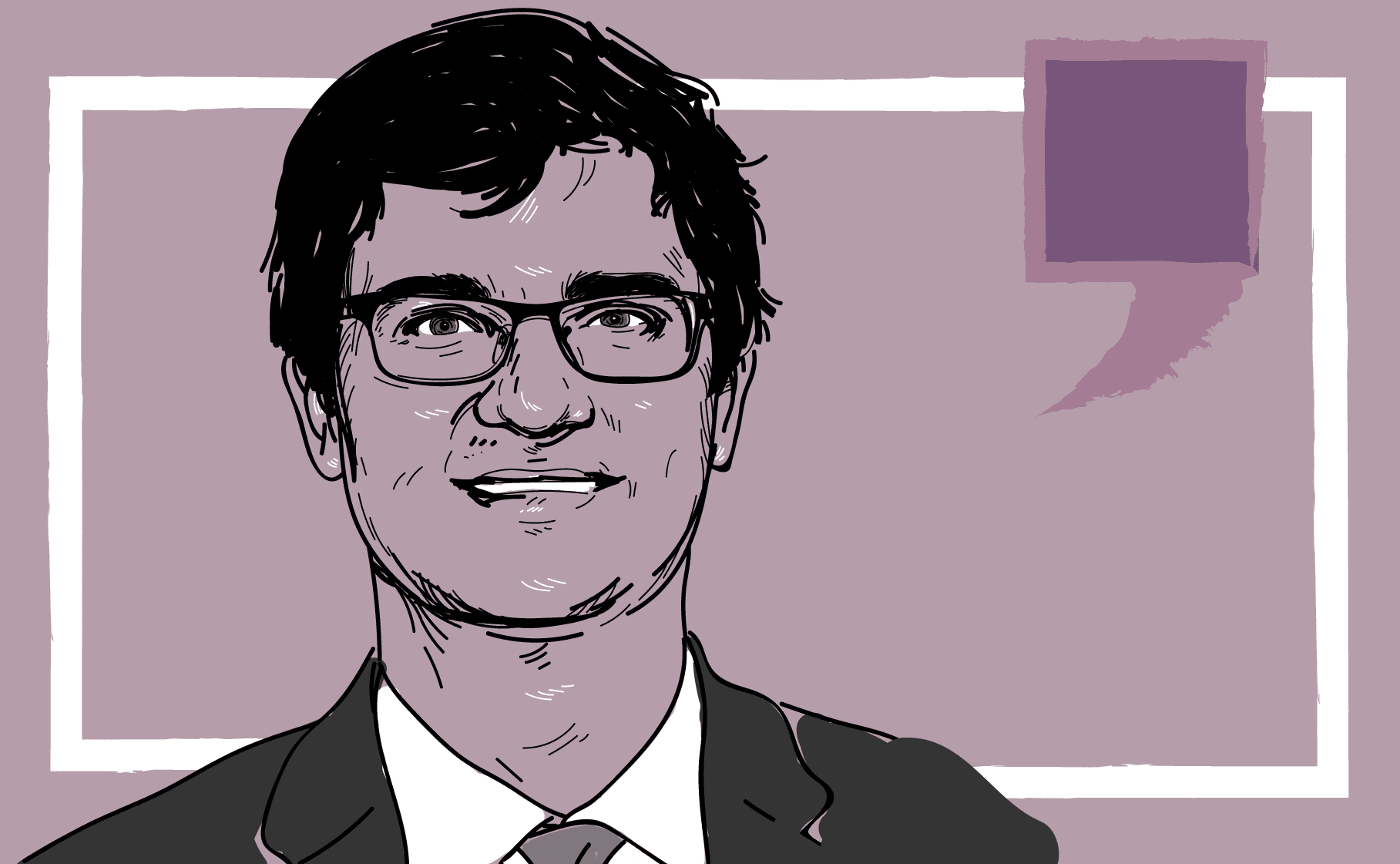O sucesso do Novo Mercado é inquestionável. Sua criação — conduzida exclusivamente pela iniciativa privada, sem a mão pesada e, na maioria das vezes, inepta do Estado — modificou o espírito das companhias abertas brasileiras. Mas até chegarmos aqui houve uma longa trajetória. Ela começa um século e meio atrás, com a introdução, no direito brasileiro, da sociedade anônima pelo Código Comercial de 1850. A finalidade foi criar um veículo que atendesse companhias com alta demanda de capital, cuja necessidade de recursos suplantasse a capacidade financeira dos sócios. Era pressuposto que tais empresas fossem abertas. Uma vez constituídas, suas ações podiam ser negociadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Não existiam, na época, sociedades anônimas fechadas.
A legislação deixava total liberdade aos empreendedores. Apenas cinco dos 900 artigos do código se dedicavam a regular as sociedades anônimas, e nenhum deles falava em direitos de acionistas. A única determinação era que o capital fosse dividido em ações. As demais características da empresa e de seus títulos deveriam ser estabelecidas pelos estatutos sociais. Desde então, as sociedades anônimas passaram por quatro ondas de reformas, todas promovidas pelo Estado. Ocorreram tanto no regime monárquico como no republicano. Ressalte–se que apenas as modificações efetuadas no período imperial ganharam forma em governos democráticos. As outras, sem exceção, sucederam em regimes autoritários.
A primeira dessas reformas data de 1860, como reação ao crescimento da Bolsa após a edição do Código Comercial. Os conservadores julgavam que a existência de 40 companhias abertas e a especulação com ações prejudicavam a economia agrária, para onde entendiam que os recursos disponíveis deveriam ser dirigidos. O resultado foi a Lei 1.083, conhecida como Lei dos Entraves. Promulgada em agosto de 1860, visava a restringir o uso de sociedades anônimas, criando obstáculos ao seu funcionamento. O regulamento determinava, por exemplo, que ordens de compra e venda de ações só fossem admitidas por escrito. Proibia operações a descoberto, assim como quaisquer reuniões de intermediários não autorizados — algo considerado ajuntamento para fins ilícitos. O Estado também ganhou o papel de juiz da existência de novas companhias. A experiência durou duas décadas e causou enormes danos ao desenvolvimento do País.
Constituídas apenas por ações ON, as sociedades anônimas foram, em seus primeiros 80 anos, eminentemente democráticas
A segunda maré de alterações ocorreu em dois momentos. Em novembro de 1882, com a promulgação da Lei 3.150, que liberalizou, novamente, a criação e a atividade das companhias abertas. E durante o período discricionário de Deodoro da Fonseca, quando outra legislação sobre o tema foi editada: o Decreto 164, de janeiro de 1890. Era cópia quase fiel da Lei de 1882, com mudanças superficiais. Vigorou até os anos 1930. Nenhum desses diplomas alterou a essência das sociedades anônimas. Constituídas apenas por ações ordinárias, com direito a voto, foram, em seus primeiros 80 anos, eminentemente democráticas. As decisões eram tomadas em assembleias, sem a prevalência de acionistas majoritários. Para evitar a formação de grupos controladores, os estatutos das empresas estabeleciam uma quantidade máxima de sufrágios por acionista.
Com a Primeira Guerra Mundial e o enfraquecimento das economias europeias, empresas francesas, alemãs e italianas passaram a ser alvo de tomada de controle por estrangeiros. Para conter esse movimento, criaram–se ações com votos plurais, atribuíveis aos administradores. As ações comuns não perdiam o direito de votar, mas surgiram minorias acionárias que detinham o poder pelo uso dos sufrágios múltiplos que seus títulos possuíam. Essas ações, chamadas de direção, detinham 10, 20 ou 50 votos, contra apenas um de cada ação ordinária. A ideia empolgou alguns setores no Brasil. Em abril de 1931, seis meses após a implantação da ditadura de Getúlio Vargas, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e sua congênere bancária encaminharam um pleito ao governo solicitando a adoção do princípio de multiplicidade de votos. Estava em marcha a terceira torrente de reformas das sociedades anônimas promovidas pelo Estado. Essa também se completaria em duas fases.
O ministro da Justiça Francisco Campos tinha índole fascista. Seu objetivo era centralizar o poder empresarial em homens providenciais. Mais tarde, numa entrevista, em julho de 1939, fez o seguinte comentário: “O saneamento das sociedades anônimas só poderá fazer–se mediante a concentração de poderes e das responsabilidades da gestão em uma única pessoa”. Na visão do ministro, era necessário extinguir as democracias societárias. Não foi adotado o voto plural, mas Campos inovou, criando as ações sem voto. Em 15 de junho de 1932, Vargas assinou o Decreto 21.536, introduzindo, sem limites quantitativos, as ações preferenciais no direito brasileiro.
O segundo movimento dessa terceira onda de reformas ocorreu em 1940, com a promulgação do Decreto–Lei 2.627, mais conhecido como Lei das Sociedades Anônimas. Ele estabelecia que o volume de ações preferenciais sem direito a voto não poderia ultrapassar a metade do capital de qualquer sociedade anônima. Mantinha–se, então, de forma mais contida, a distorção fundamental da existência de duas categorias de acionistas: os donos das companhias, detentores de ações ordinárias; e os investidores, possuidores de papéis sem voto.
A quarta e última onda de reestruturações promovidas pelo Estado aconteceu duas décadas adiante, durante o regime militar. Teve início em 1964, com a edição da primeira Lei do Mercado de Capitais, que definiu conceitos jurídicos e econômicos das sociedades anônimas de capital aberto e criou um pioneiro órgão de controle: o Banco Central do Brasil. Os incentivos fiscais daquela reforma levaram ao surgimento de uma efêmera bolha especulativa, sem propiciar um desenvolvimento efetivo das companhias abertas brasileiras.
Dez anos depois, surgiria a segunda etapa dessa reforma introduzida pela tecnoburocracia militar: a Lei 6.404/76 e a instituição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os mentores intelectuais de tais modificações foram os juristas Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, que agravariam os efeitos perversos das ações preferenciais. A lei previa o aumento desse tipo de ação para dois terços do capital das companhias. A Bolsa do Rio criticou publicamente os malefícios de tal providência. Os autores redarguiram em três artigos de página inteira no Jornal do Brasil. Os argumentos soavam similares aos de Francisco Campos. Bradavam a necessidade de haver, no comando das companhias, empreendedores iluminados, capazes de criar e gerir as grandes empresas nacionais de capital aberto.
Nenhuma dessas ondas de reformas estatais conseguiu revigorar as companhias abertas e o mercado de capitais brasileiro. Pelo contrário, só pioraram a situação ao introduzir medidas que desestimularam os investidores, fizeram nascer classes privilegiadas de empresários e concentraram o poder e a renda. Quando tudo parecia perdido, uma quinta reforma na configuração das companhias abertas no Brasil foi iniciada, em 1997, pela Bovespa. A Bolsa contratou uma equipe, chefiada pelo economista José Roberto Mendonça de Barros, para obter recomendações sobre como tirar o mercado de capitais do marasmo. Naquela época, o mercado primário de ações estava estagnado. Novas emissões só eram possíveis em Nova York, através de ADRs, e o volume em Bolsa era dominado por ações da extinta Telebrás.
As conclusões do estudo vieram no fim de 1999. Acusavam a fragilidade dos direitos de minoritários, expressa no antagonismo entre um terço de ações ordinárias e dois terços de preferenciais, como ponto nevrálgico a ser combatido. Com base nisso, a Bolsa se inspirou no Neuer Market — mercado alemão para empresas de alta tecnologia, que propunha regras de governança que iam além da regulação comum — para lançar, em dezembro de 2000, o Novo Mercado. Os requisitos básicos do segmento eram a existência apenas de ações ordinárias, a adoção de boas práticas de governança corporativa, um percentual mínimo obrigatório de ações em circulação e a opção, pela arbitragem, para solução de conflitos. Tudo formalizado por um contrato entre a Bolsa e cada uma das aderentes. Os níveis 1 e 2 foram concebidos como degraus intermediários, capazes de acomodar empresas em transição, ainda sem condições de se listar na plataforma de excelência.
A adesão das companhias aos níveis diferenciados da BM&FBovespa tardou a acontecer. Mas em seis meses, 15 empresas haviam migrado suas ações para o Nível 1. O primeiro registro no Novo Mercado veio em fevereiro de 2002, com o IPO da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR). Desde então, 124 companhias se listaram no nível mais sofisticado de governança da Bolsa, provando que o segmento veio para ficar e crescer. A saga desses dez anos é narrada nas matérias que se seguem.
Para continuar lendo, cadastre-se!
E ganhe acesso gratuito
a 3 conteúdos mensalmente.
Ou assine a partir de R$ 34,40/mês!
Você terá acesso permanente
e ilimitado ao portal, além de descontos
especiais em cursos e webinars.
User Login!
Você atingiu o limite de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês.
Faça agora uma assinatura e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre mercado de capitais
Ja é assinante? Clique aqui